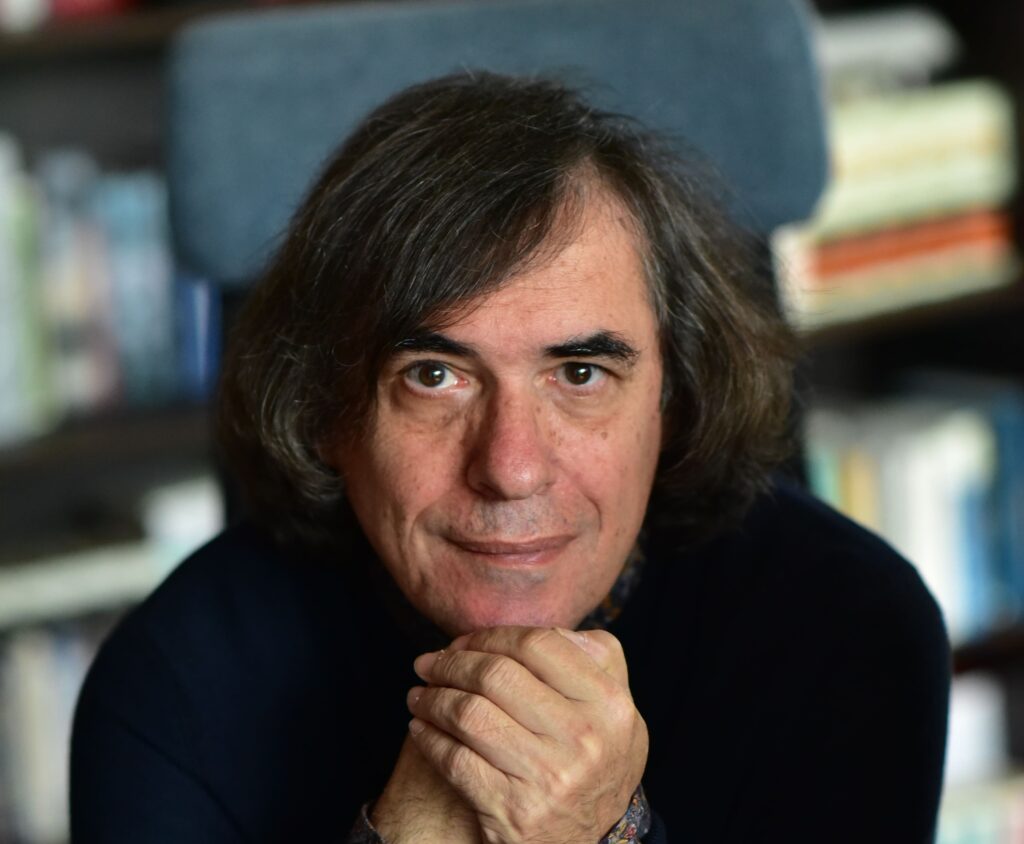Há um declínio geral nos afetos, no ativismo, no trabalho e até na procriação. Sob a solidão digital, o desejo perde o corpo do outro como lugar de descoberta e partilha. Como encontrar sua tessitura coletiva, para o amor reencontrar as ruas?
Escrito por Franco Berardi
Tradução: Maurício Ayer
Comecei a ler Félix Guattari em 1974. Eu estava em um quartel no sul da Itália quando o serviço militar era obrigatório para jovens de mente e corpo saudáveis, mas servir meu país rapidamente me entediou e eu estava procurando uma fuga quando um amigo sugeriu que eu lesse este filósofo francês que recomendava a loucura como fuga. Eu então li Une tombe pour Oedipe. Psychanalyse et Transversalité [Um túmulo para Édipo – Psicanálise e Transversalidade] publicado pela Bertani, e me inspirei nele para simular loucura. O coronel da clínica psiquiátrica me reconheceu como louco, então fui para casa.
A partir desse momento, passei a considerar Félix Guattari como um amigo cujas sugestões podem ajudar a escapar de qualquer caserna.
Em 1975, publiquei o primeiro número de um jornal chamado A/traverso, que traduzia conceitos esquizoanalíticos para a linguagem do movimento de estudantes e jovens trabalhadores chamado Autonomia.
Em 1976, com um grupo de amigos, comecei a transmitir na primeira estação de rádio gratuita italiana, a Rádio Alice. A polícia desligou o rádio durante os três dias de revolta estudantil de Bolonha após o assassinato de Francesco Lorusso.
O movimento de Bolonha de 1977 usou a frase “desejo de autonomia”, e o pequeno grupo de editores de rádio e revista se qualificava como “transversalistas”.
A referência ao pós-estruturalismo ficou explícita nas declarações públicas, nos panfletos, nos slogans da primavera de 1977.
Tínhamos lido o Anti-Édipo, não havíamos entendido muito, mas uma palavra nos impressionou: a palavra “desejo”.
Este ponto nós compreendemos bem: o motor do processo de subjetivação é o desejo. Temos que parar de pensar em termos de “sujeito”, temos que esquecer Hegel e toda a concepção de subjetividade como algo pré-embalado que bastaria organizar. Não há sujeito, há correntes de desejo que atravessam organismos que são ao mesmo tempo biológicos, sociais e sexuais. E conscientes, claro. Mas a consciência não é algo que possa ser considerado puro, indeterminado. A consciência não existe sem o trabalho incessante do inconsciente, deste laboratório que não é um teatro porque não representamos ali uma tragédia já escrita, mas uma tragédia atravessada por fluxos de desejo que escrevemos e reescrevemos constantemente.
Por outro lado, o conceito de desejo não pode ser reduzido a uma tensão sempre positiva. O conceito de desejo serve como chave para explicar as ondas de solidariedade social e as ondas de agressão, para explicar as explosões de raiva e o endurecimento da identidade.
Em suma, o desejo não é um bom menino feliz; ao contrário, ele pode contorcer-se, fechar-se sobre si mesmo e finalmente produzir efeitos de violência, destruição, barbárie.
O desejo não é um dado natural, mas uma intensidade que muda de acordo com as condições antropológicas, tecnológicas e sociais.
O desejo é o fator de intensidade na relação com o outro, mas essa intensidade pode ir em direções muito diferentes, até mesmo contraditórias.
Guattari também fala de ritornelos, para definir concatenações semióticas capazes de relacionar-se com o ambiente. O ritornelo é uma vibração cuja intensidade pode ser concatenada com a intensidade de tal ou tal sistema de signos, ou seja, de estímulos psicossemióticos.
O desejo é a percepção de um ritornelo que produzimos para captar as linhas de estímulo vindas do outro (um corpo, uma palavra, uma imagem, uma situação) e nos relacionarmos com essas linhas.
Da mesma forma, a vespa e a orquídea, duas entidades que nada têm a ver uma com a outra, podem produzir efeitos úteis uma para a outra.
Por uma reconfiguração do desejo
Trata-se, portanto, de problematizar o conceito de desejo no contexto da era atual, uma era que pode ser definida pela aceleração neoliberal e pela aceleração digital.
A economia neoliberal acelerou a taxa de exploração do trabalho, particularmente do trabalho cognitivo, a tecnologia digital conectiva acelerou o fluxo de informações e, portanto, intensificou ao extremo a taxa de estimulação semiótica que é ao mesmo tempo estimulação nervosa.
Essa dupla aceleração é a origem e a causa da intensificação da produtividade que possibilitou o aumento do lucro e a acumulação do capital, mas é também a origem e a causa da superexploração do organismo humano, especialmente do cérebro.
Temos, portanto, a tarefa de distinguir os efeitos que essa superexploração produziu sobre o equilíbrio psíquico e a sensibilidade dos seres humanos como indivíduos, mas sobretudo como coletividades.
Em particular, devemos refletir sobre a mutação que afetou o desejo, levando em consideração o trauma que a experiência da pandemia produziu na psique coletiva. O vírus pode ter sido disperso, a infecção pode ter sido curada, mas o trauma não desaparece da noite para o dia, ele faz o seu trabalho. E o trabalho do trauma se manifesta por uma espécie de sensibilização fóbica ao corpo do outro, em particular à pele, aos lábios, ao sexo.
Nas duas décadas do novo século, vários estudos mostraram que a sexualidade está mudando profundamente, e o choque viral apenas reforçou essa tendência, que está enraizada na transformação tecnoantropológica dos últimos trinta anos.
No livro I-Gen (Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood-and What That Means for the Rest of Us ?) [I-Gen (Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes – e completamente despreparadas para a idade adulta – e o que isso significa para o resto de nós?)] (2017), Jean Twenge analisa a relação entre tecnologia conectiva e mudanças no comportamento psíquico e afetivo de gerações que se formaram em um ambiente digital e conectivamente tecnocognitivo.
Passei a definir os humanos que vieram ao mundo após a virada do século como a geração que aprendeu mais com uma máquina do que com a voz singular de um ser humano.
A meu ver, essa definição é útil para entender a profundidade da mutação que estamos analisando: sabemos desde Freud que o acesso à linguagem só pode ser compreendido a partir da dimensão afetiva.
O que acontece quando a voz singular da mãe (ou de outro ser humano, que seja) é substituída por uma máquina?
Não esqueçamos também o que Agamben escreve em linguagem e morte: a voz é o ponto de encontro entre a carne e os sentidos, entre o corpo e os sentidos. A filósofa feminista Luisa Muraro sugere que a aprendizagem do significado está ligada à confiança da criança em sua mãe. Acredito que uma palavra significa o que significa porque minha mãe me disse que ela estabeleceu uma relação entre o objeto percebido e um conceito que o significa.
O fundamento psíquico da atribuição de sentido assenta neste ato primordial de partilha afetiva, de coevolução cognitiva garantida pela vibração singular de uma voz, de um corpo, de uma sensibilidade.
O sentido do mundo é então substituído pela funcionalidade dos signos que permitem obter resultados operacionais, a partir da recepção e interpretação de signos desprovidos de profundidade afetiva e, portanto, de certeza íntima.
O conceito de precariedade mostra aqui seu significado psicológico e cognitivo como enfraquecimento e deserotização da relação com o mundo.
Trata-se do erotismo como intensidade carnal da experiência, e do desejo em sua relação (não exaustiva) com o erotismo.
Desejo e sexualidade
Geralmente associamos o desejo com a carne, com a sexualidade, com o corpo que se aproxima do outro corpo. Mas é preciso ressaltar que a esfera do desejo não pode ser reduzida à sua dimensão sexual, mesmo que essa implicação esteja inscrita na história, na antropologia e na psicanálise. O desejo não se identifica com a sexualidade e, de fato, pode-se muito bem conceber a sexualidade sem o desejo.
O conceito e a realidade do desejo não se limitam ao sexo, como mostra o conceito freudiano de sublimação, que diz respeito aos investimentos não diretamente sexuais do próprio desejo.
A pandemia completou um processo de dessexualização do desejo que se vinha preparando há muito tempo, pois a comunicação entre corpos conscientes e sencientes no espaço físico foi substituída pela troca de estímulos semióticos na ausência de um corpo. Essa desmaterialização da troca comunicacional não apagou o desejo, mas o transferiu para uma dimensão puramente semiótica (ou melhor, hipersemiótica). O desejo desenvolveu-se então numa direção não sexual, ou se quiserem, pós-sexual, que se manifestou na condição de isolamento que a pandemia tornou regular e quase institucionalizada. Todo o corpus teórico e prático da psicologia, da psicanálise e até da política deve ser reconsiderado porque a subjetividade foi irreversivelmente rompida e transformada.
O psicanalista italiano Luigi Zoja publicou um livro sobre o esgotamento (e o desaparecimento tendencioso) do desejo (o título, na verdade, é O declínio do desejo). É um texto cheio de dados muito interessantes sobre a redução drástica da frequência do contato sexual e, em geral, do tempo dedicado ao contato, ao relacionamento presencial. Mas a hipótese central do livro (o desaparecimento do desejo) me parece questionável. Não é o desejo em si que desaparece, na minha opinião, mas sim a expressão sexualizada do desejo. A fenomenologia da afetividade contemporânea caracteriza-se cada vez mais por uma redução dramática do contato, do prazer e do relaxamento psíquico e físico que o contato pele a pele permite. Perde-se assim a confiança sensual, perde-se o sentimento de cumplicidade profunda que torna tolerável a vida social: o prazer da pele que reconhece o outro pelo tato, a sensualidade, o doce gozo da intimidade do olhar.
A geração que aprendeu mais palavras de uma máquina do que da voz de sua mãe, ou de outro ser humano, formou-se em um ambiente físico e psíquico cada vez mais intolerável.
Perversão do desejo e agressão contemporânea
A dessexualização na verdade corre o risco de transformar o desejo em um inferno de solidão e sofrimento esperando para ser expresso de uma forma ou de outra. A violência sem sentido que irrompe cada vez mais na forma de agressões armadas e mortíferas contra pessoas inocentes mais ou menos desconhecidas (os atentados em cadeia que se multiplicaram por toda parte desde Columbine em 1999, e dos quais os Estados Unidos são o principal teatro) é apenas a ponta do iceberg de um fenômeno que, no plano político, revira a história do nó como um todo. Como explicar a eleição de indivíduos como Donald Trump ou Jair Bolsonaro por metade do povo estadunidense ou brasileiro, senão como uma manifestação de desespero e autoaversão?
A eleição de um idiota ignorante que expressa abertamente visões racistas ou criminosas guarda profundas semelhanças (psicologicamente, mas também politicamente) com massacres que só podem ser explicados em termos de insanidade dolorosa, desejo suicida. O que continuamos a chamar de fascismo, nacionalismo ou racismo não pode mais ser explicado em termos políticos. A política é apenas o terreno espetacular em que esses movimentos se manifestam, mas a dinâmica da agressão social contemporânea quase nada tem a ver com os autoproclamados valores ideais do fascismo do século passado, com o nacionalismo dos séculos modernos. A retórica costuma ser semelhante, mas o conteúdo não é politicamente racional.
Só o discurso sobre o sofrimento, a humilhação, a solidão e o desespero pode dar conta do fenômeno que hoje caracteriza a maior parte da história do mundo na fase de esgotamento das energias nervosas e na expectativa de uma extinção que aparece cada vez mais como um horizonte inevitável.
A geração que é chamada com amarga ironia como a “última geração” (ou também a “geração zeta”), aquela que aprendeu mais palavras com uma máquina do que com a voz de sua mãe ou de outro ser humano, formou-se em um ambiente físico e psicológico cada vez mais intolerável. A comunicação desta geração desenvolveu-se quase exclusivamente num ambiente tecnoimersivo cuja coerência é puramente semiótica.
Estamos preparando-nos para vivenciar a própria extinção na forma de uma simulação imersiva. A produção midiática está cada vez mais saturada com os sinais desse desespero, que funcionam tanto como sintomas de um mal-estar, quanto como fatores de propagação de uma patologia: penso em filmes como Coringa e Parasita, mas também em séries da neotelevisão global Netflix: Squid Game e milhares de outros produtos similares.
O trauma viral da Covid apenas multiplicou o efeito hipersemiótico, mas as condições técnicas e culturais já existiam. Neste ponto, tudo o que podemos fazer é tentar entender essa mutação – e podemos defini-la como uma mutação dessexualizante que afeta o desejo.
O desejo não deixou de conduzir o processo de subjetivação coletiva, mas essa subjetivação agora se manifesta na forma de ansiedade, autoagressão ou às vezes agressão, porque não pode desabrochar e se expressar e se perverte em formas agressivas.
A dessexualização do desejo, cujos vestígios se encontram por toda a parte, traduz-se ao nível social numa desistorização das motivações da ação coletiva. Assistimos a um fenômeno massivo de desengajamento e deserção: abstenção majoritária da política, deserção da procriação, abandono do trabalho. Este fenômeno deve ser objeto de uma análise teórica (diagnóstico) que possibilite estratégias de ação discursiva e política (terapia) que atualmente nos faltam totalmente.
Franco Berardi, mais conhecido por Bifo, é um filósofo, escritor e agitador cultural italiano. Oriundo do movimento operaísta, foi professor secundário em Bolonha e sempre se interessou sobre a relação entre o movimento social anticapitalista e a comunicação independente.
[Imagem: Lucas Ninno - fonte: www.outraspalavras.net]



.jpeg)